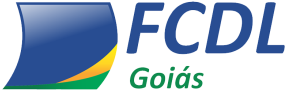Estou em Nova York, como parte de uma iniciativa que uniu a Varejo 180 e Consumidor Moderno para uma missão que trouxe mais de 160 executivos de varejo para a cidade, por conta do Big Show, da NRF. Este evento tradicional, com mais de 100 anos de existência, é realizado sempre no gelado mês de janeiro em Nova York, meca global do varejo para repercutir tecnologias e conceitos que influenciam a operação do varejo nos principais mercados mundiais.
Já publicamos bastante material sobre o Congresso deste ano. E, fazendo uma reflexão sobre as ideias mais faladas e comentadas desta edição, fiquei aborrecido de ver tanto esforço intelectual consumido para explicar as possibilidades do metaverso (a buzzword não só dessa estação, mas provavelmente, das próximas 3 ou 4) em detrimento do que é a alma insubstituível, charmosa, marcante e apaixonante do varejo em qualquer época e lugar: a loja.
Nova York é um paraíso de experiências de loja. Normalmente são grandes, espaçosas, repletas de artigos. Mais bem pensadas e sensoriais, ou truncadas e poluídas visualmente, dependendo da proposta da marca. Mas é sempre um enorme aprendizado ver como aproveitam o espaço, como fazem o consumidor se deslocar, os pontos de atenção, o uso das interfaces digitais.
Os aspectos técnicos são largamente explorados por muitos e muitos especialistas, inclusive no Brasil. O que é particularmente encantador é que a loja ainda é um espaço de experimentação, sempre uma tela em branco para que designers, arquitetos, lojistas e criativos em geral combinem elementos, materiais, luzes, cenografia, texturas, níveis e produtos para criar e recriar formas que chamem a atenção e convidem ao toque, ao olhar e à imaginação.
Se os tempos de pandemia estimularam públicos a evitar as lojas e a se atirarem ao e-commerce, é provável que seja uma fase de encapsulamento. Porque a loja, quando tocada por quem gosta de gente, ainda é um espaço constante de descoberta e entretenimento. Ela nos convida a experimentar, viver e arriscar. O online nos traz tudo mastigado, organizado, rápido e combinado conforme os algoritmos sugerem (ou condicionam). Mas a loja, por sua vez, traz a possibilidade real do imprevisto, do caos e da imprudência, como é a vida fora da zona de conforto das casas.
Passear por TJ Maxx, Lululemon, Bed, Bath & Beyond, Harry Potter é um convite constante a enfrentar o risco da descoberta e se atirar à aleatoriedade da vida.
Se o e-commerce é conveniente, a loja também pode ser. E então alguém vai lembrar dos pontos desagradáveis, tais como filas e meios de pagamento disfuncionais (como se checkouts imperfeitos e problemas de entrega não existissem no comércio eletrônico!).
Mas tudo bem, a loja é uma pequena simulação da aventura da vida. Não por acaso, as Big Techs abriram suas versões físicas de lojas, com várias ideias que inspiraram diversas outras varejistas. Fizeram isso não apenas para trazer seus conceitos, experiências e storytelling para a vida real, também para conhecer quem realmente usa o que fazem.
Aliás, é interessante notar como as lojas da Amazon e do Google seguem um padrão de organização impecável, um estilo descontraído, mobília baseada em madeira, iluminação clara, música moderninha. Tudo certinho, perfeitamente pensado para criar o efeito calculado, como se tudo ali fosse desenhado por um algoritmo. Mas percebam: falta alma, caos, desarranjo e estranheza nessas lojas. Já a Apple Store consegue fugir ao padrão, porque ela incentivou o toque, o diálogo e a experimentação. As congêneres das demais Big Techs são um exercício de estilo, mas não são lojas, têm uma sintonia diferente.
Acredito que os últimos tempos foram devastadores para lojistas e executivos de varejo, para as lojas que pulsavam ao sabor do asfalto, do cimento e do vidro, dos carros e das pessoas em suas rotinas. O poder da Amazon, a conveniência do e-commerce e a pandemia que levou milhões ao confinamento e escancarou as delícias do home office dizimaram milhares de pontos de venda.
Agora, 60% dos millennials e da Geração Z dos EUA e Reino Unido declararam que preferem passar 50% das horas semanais de trabalho no home office (como destaquei no texto sobre o estudo Retail Supernova). À parte os benefícios – relativos – no trânsito das metrópoles, isso retrata uma acomodação incompreensível à uma maneira de vida “hibernante”.
A loja é espaço de socialização, amizade, interação, impressão sensorial, toque e exposição. Durante a #NRF2022, uma pergunta incômoda era feita em todos os painéis: “que razão um cliente teria para ir à uma loja?”
Se não por comprar nada, a visita à uma loja significa ver esse balé por vezes desengonçado de gôndolas, araras, displays, produtos e promoções, acompanhadas de músicas, preços, sons e cheiros que há séculos identificam os grupos humanos. A loja sempre foi um ponto de encontro das pessoas. Ela acolhe, entusiasma, enerva, vibra, sem sair do lugar. Quando uma loja fecha as portas, um pouco da alma da vizinhança se perde, fica sem destino.
Ainda assim, as lojas sobrevivem, majestosas e altivas. Em São Paulo, Montevidéu, Nova York, Barcelona ou Tóquio, as metrópoles cresceram e criaram identidade a partir dos pontos de venda. Se o leitor ou a leitora quiser fazer um bem real para a sua cidade, tenha mais carinho pelas lojas e pelo seu comércio. Se você foi um dos brasileiros privilegiados com o home office (vale lembrar que a maioria não teve essa condição), deixe o sofá e o pijama de lado e procure uma loja. Qualquer que seja, independentemente do que venda, ela vale uma visita.
Fonte: Consumidor Moderno